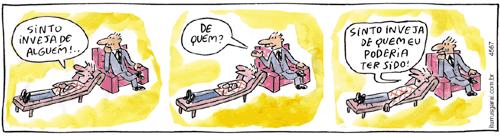Insegurança e narcisismo: queremos ser os únicos a "perceber" e a denunciar a falsidade do mundo |
No sábado passado, assisti a dois filmes: "A Árvore da Vida", de Terrence Malick, e "Melancolia", de Lars von Trier.
Assistindo ao filme de Malick, pensei no meu professor de literatura no ginásio (acho que se chamava Massariello). Ele nos apresentou à poesia de Giacomo Leopardi, que líamos com gosto, e logo administrou uma ducha fria: "Leopardi era bom poeta, mas não um grande". "Por quê?", perguntamos.
Ele explicou: "Leopardi, em sua breve existência, cantou a juventude que passa rápido demais, a morte que se aproxima, a natureza que não é uma mãe amorosa, o infinito no qual descobrimos nossa insignificância, a vida que não responde às promessas que ela nos fez quando éramos crianças. Vocês gostam de seus poemas porque essas são as questões preferidas pelos adolescentes e por todos os que não conseguem enxergar e amar a vida concreta".
A vida concreta, para ele, era o mundo -desde "as mulheres, os cavalheiros, as armas, os amores" até o pipoqueiro na esquina. Também segundo ele, para justificar a existência desse mundo concreto (grandioso ou trivial, feio ou bonito), bastava a revelação de seu charme, de sua "poesia".
Pois bem, Malick (ou seu narrador) é assombrado pelas lembranças (que ele apresenta admiravelmente) da brutalidade de seu pai, da morte de seu irmão etc. Problema: como não perder de vista Deus e o sentido do mundo diante das inexplicáveis injustiças divinas?
Solução: tente contar sua história começando pelo Bing Bang e passe pelas águas-vivas, pelos dinossauros, pelo meteorito que os extinguiu, até chegar a você. Depois de uma hora de erupções vulcânicas e frêmitos de células no estilo "National Geographic" (com uma trilha sonora na qual Justine, a protagonista de "Melancolia", diria que só falta a nona de Beethoven), tudo fará sentido: a morte dos que você ama, o mal que Deus permite e o que você cometeu parecerão participar do milagre que são a existência do universo, a árvore da vida e o plano divino. Aleluia!
Problema: no fim, o mundo concreto terá sido justificado por uma transcendência (a mão de Deus no grande esquema das coisas). Isso é ótimo para um ensaio ou para uma pregação. Para a arte e a poesia, melhor esperar o fim da adolescência e repassar, diria o professor Massariello.
Eu tinha o receio de que "Melancolia", de Lars von Trier, fosse uma espécie de inverso simétrico do filme de Malick: uma meditação sobre a gratuidade da nossa existência, que talvez Massariello achasse tão adolescente quanto "A Árvore da Vida". Mas não foi nada disso.
Parêntese: vários comentadores declaram que se trata de um filme sobre o mal de hoje, a depressão, só que esta não é a doença do nosso tempo, e sim, sobretudo, uma doença que nosso tempo gosta de diagnosticar porque acha que encontrou a pílula certa para curá-la.
Continuando, o mal do qual sofre Justine consiste em perder interesse pela vida concreta, a ponto de não tolerar o que lhe parece ser a farsa de sua própria festa de casamento.
Em geral, esse cinismo cético é fruto de 1) uma consciência moral terrível, pela qual toda experiência concreta, sobretudo se for prazerosa, deve ser culpada ou 2) uma extrema insegurança compensada por uma exaltação narcisista; assim: sou o único a "perceber" que tudo é falso -com isso, sou superior aos outros, ninguém me engana. Essa posição é frequente na adolescência; pense no jovem que, no baile, desesperado por não conseguir se integrar, fica sentado denunciando mentalmente a impostura e os simulacros na valsa dos que dançam.
Nota. A mãe de Justine é clinicamente perfeita. Passando pelo crivo de seu sarcasmo, tudo é apenas hipocrisia: não sobra um mundo no qual a gente possa querer encontrar um lugar.
No "Nascimento da Tragédia", Nietzsche conta que Sileno, companheiro de Dionísio, tendo que responder à pergunta "O que é melhor para o homem?", disse: "O melhor de tudo é inteiramente inatingível: não ter nascido, não ser, nada ser".
Nietzsche simpatizava com Sileno e não recorria a transcendências (divinas ou não) para justificar o mundo. Sua solução era que a vida se justificasse pela arte ou, como dizia Massariello, pelo charme que a poesia lhe confere.
Bom, Von Trier conseguiu dar sentido (e charme) ao fundo do poço. Não perca.